Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 3
No dia seguinte, seguimos para Cumaná, capital do estado de Sucre. Na saída de Puerto la Cruz, chamam a atenção os canteiros de bougainvilles de tons magenta e branco, às vezes contrastando as cores, num evidente esforço da administração para trazer alguma beleza à árida cidade. A estrada de mão dupla margeia a costa caribenha, numa bela região, cortando o Parque Nacional Mochima. No caminho, pelos baques do carro nos quebra-molas, nos demos conta de que a suspensão estava quebrada. Portanto, se decidíssemos seguir depois para Ciudad Guayana, nosso provável destino, era mais seguro trocar de automóvel - a ideia de ir à cidade portuária na Faixa do Orinoco (sim, o famoso Rio Orinoco, que nasce próximo à fronteira do Brasil) era para conhecer a vida na principal zona petroleira da Venezuela, onde se encontram quase 75% das reservas do país e vários poços de petróleo.
No caminho para Cumaná, mais uma vez, a sensação de voltar ao passado. A impressão é de que da década de 90 até hoje a Venezuela parou no tempo. Na estrada, há pouquísima sinalização, restaurantes abandonados e placas de propaganda destruídas pelo tempo lembram filmes de ficção científica. Só as placas com o rosto de Chávez resistem de pé, ainda assim, corroídas. A paisagem é bem seca, árida, com arbustos espinhosos. O calor de verão é forte, mas chegamos sem sobressaltos. Logo na entrada de Cumaná, uma pichação no viaduto profetiza: “Declaro que o sangue de Jesus tem poder e salvará minha cidade”.
Ali, nos hospedamos no que deve ter sido foi um hotel de alto luxo na década de 90. O Venetur Cumaná é gerenciado pela operadora estatal de produtos turísticos, que expropiou hotéis de redes internacionais, como Hilton, no Governo Chávez. Tentamos nos informar sobre a história do hotel com funcionários, mas não conseguimos arrancar nada. Entendemos que há coisas das quais não se pode falar na Venezuela – e nem adianta buscar informações na internet, porque você não encontra. O site da Venetur informa que a rede foi criada pelo estado para atender a população a preços acessíveis, de acordo com padrões de qualidade e por entender que o turismo é “um fator estratégico para o desenvolvimento socioprodutivo e sustentável do país”. De fato, com poucas ressalvas, o hotel é um bom exemplo de uma empresa pública bem administrada, bom preço e boa qualidade. Tudo correu bem, mesmo contabilizando as duas baratas no hall do hotel. Mas lembre-se: se você acha que será mimado com as corriqueiras frescuras de um hotel de luxo, esqueça. Na Venezuela em geral, se você pedir algo a um funcionário que não é sua função ele quase se ofende. Cada um no seu quadrado. Esqueça os rapapés.
Com o sinal de internet ainda pior (tive a impressão de ouvir aquele barulhinho dos primórdios da rede), colocamos o trabalho em dia e fomos até o centro da cidade em busca de informações para montar o roteiro dos próximos dias: condições das estradas, possibilidade de trocar de carro etc. Ao chegar ao centro histórico, estacionamos em frente a uma igreja e uma escola, local que nos pareceu seguro, já que a recomendação da empresa de aluguel de carros era de que parássemos em estacionamentos privados, de forma que não roubassem pneus ou peças do carro. Na mesma rua, avistamos um escritório da agência nacional de turismo e entramos. Ainda que muito bem recebidos e contando com a máxima boa vontade dos funcionários – passamos ali cerca de 40 minutos –, conseguimos de fato pouquíssima informação. Ao final, nos recomendaram ir até o aeroporto da cidade onde, além dos guichês das companhias aéreas, havia uma agência de viagens e locadoras de carro. Por acaso, descobrimos que Cumaná é um importante sítio histórico. Trata-se da cidade mais antiga entre as fundadas em terra firme no continente americano que continuam de pé. Foi ali a primeira missão espanhola em terra firme do Novo Mundo, criada em 1501.
Caminhamos até a praça principal e vimos uma pequena lanchonete. Perguntamos se havia café e o dono nos indagou: “De onde vocês vêm?” Iniciamos uma conversa e ele então, respondeu: “Pra vocês têm café.” Só entendemos a resposta quando, minutos depois, entraram dois rapazes perguntando o mesmo e ele negou. “Não vou acabar com o meu café. Guardo para os meus clientes. Vocês são diferentes. Dá ver que são gente distinta”, nos confidenciou.
Em 2016, Cumaná foi alvo de violentos saques no comércio. Por isso, não era de se estranhar o pelotão de soldados armados e de prontidão na pitoresca pracinha, a postos contra qualquer guarimba. Mas a cidade estava calmíssima e, para nossa alegria, naquele trecho a internet era grátis e funcionava bem. Assim como entender a Venezuela, nos demos conta de que se tornava cada vez mais difícil trocar dinheiro. Havia casas de câmbio na cidade, mas a operação era feita somente por meio de depósito em conta, não em efetivo. “O problema é dinheiro vivo. Não há notas suficientes”, disse o cambista, que “quebrou nosso galho”, trocando uma quantidade pequena com dinheiro do seu próprio bolso.
Do centro histórico rumamos para o aeroporto em busca das informações de viagem. No caminho, reparei que a luz de óleo do carro estava acesa. Mais uma vez, sem placas de sinalização nas vias, nos perdemos pelo caminho até dar de cara com um aeroporto praticamente desativado. “Agora só tem um voo por semana”, explicou o atendente. Na agência de turismo indicada, outra decepção. Muito preguiçosamente, o rapaz logo nos despachou, dizendo que não tinha informação, computador, nada. Fomos, então, até o escritório da empresa de aluguel de automóvel. Explicamos que queríamos trocar de carro para poder fazer uma viagem mais longa e ele disse que não havia veículos disponíveis. Nos guichês da Avis e Budget também não. “Os carros estão em manutenção”, era a resposta. Expliquei sobre a luz de óleo e o rapaz foi até o carro, abriu o capô, puxou a varetinha e, de primeira, querendo se livrar logo de nós, disse: “Podem seguir”.
“O melhor e mais novo da música eletrônica doa a quem doer”. Em que hotel no mundo você seria despertado pela manhã com um DJ berrando no alto falante ao som da melô-chiclete “Despacito”? Era domingo e celebravam o dia das mães. O hotel programara atividades para as famílias e o local estava cheio de crianças. Por falar em música, a sensação é de que o reggaeton (uma mistura de reggae, hip hop, salsa e música eletrônica) e o clássico “Pasito a pasito, suave suavecito” é a trilha sonora da Venezuela. Absolutamente onipresente. Mas justiça seja feita: o canto dos tão familiares bem-te-vis também ecoa por todo o país.
Mas o nosso programa do dia era outro. Há cerca de um ano, o New York Times havia noticiado que no hospital de Cumaná bebês eram acomodados em caixas de papelão, por falta de incubadora. Fomos até lá conferir a situação atual do hospital Antonio Patricia de Alcalá. Encontramos Natalia Ramírez, de 18 anos, deixando apressada o local em busca de uma farmácia: “Meu pai foi internado por conta de uma gripe mal curada e não tem antibiótico. Vou tentar comprar”. Numa birosca montada ao lado do estacionamento conhecemos Rubén Martínez, de 34 anos, que trabalha no hospital como técnico de laboratório: “Aqui falta tudo, de luvas de borracha a seringas, de toalhas de papel a luz elétrica, sem esquecer a maioria dos medicamentos básicos”. Mas não era só. A situação ia realmente de mal a pior: “Temos um surto de malária na região e não fazem dedetização. As pessoas chegam com meningite e não sabemos o que fazer". Para fechar a tampa, Rubén nos recomendou: “Passem no necrotério, atrás do setor de emergência: não tem refrigeração e, com o calor que faz, às vezes os cadáveres explodem”. Preferimos recusar o convite e nos acercamos da pediatria. Ali encontramos Solianis González, de 16 anos, que levava sua filha de sete meses para curar uma gripe. Sentada ao lado de uma lata de lixo transbordante que atraía não só uma nuvem de moscas como um gato que ciscava os restos esparramados pelo chão, ela contou: “Não tem seringa. Vou ter que comprar na farmácia, se é que vou encontrar”. Ainda assim, para ela a situação já foi mais caótica: “Fiz meu parto aqui. Na cesariana, eu sangrava muito, mas não tinha agulha para me costurar. Agora parece que está melhor”. Sua amiga Carlenes Bordones confirmou: “Há alguns meses não tinha incubadora e metiam os bebês em caixas. Agora não. Já tem”.
Os testemunhos dos entrevistados no hospital corroboram os dados oficiais sobre a saúde pública na Venezuela, divulgados em maio, com um ano de atraso. A taxa de mortalidade infantil, cuja queda havia sido uma das grandes realizações de Hugo Chávez, aumentou 30% no último ano; mulheres que morrem no parto subiram de 65%; e os casos de malária aumentaram 76%. Nessas circunstâncias, quem ali poderia defender o governo? Atrás do hospital, encontramos uma grande família acampada próxima à entrada de emergência. Eram parentes de Isabel María Vallejo, de 86 anos, internada com pneumonia. Instalados há uma semana no local, juntavam-se 30 pessoas, entre filhos, netos e sobrinhos da matriarca. Alguns cochilavam em redes penduradas em uma árvore, outros preparavam arepas na van. "Realmente falta remédio. O antibiótico da minha mãe nós é que temos que comprar. Mas, os funcionários do hospital são ótimos. Tratam bem das pessoas. Há muitos médicos e todos são muito bons", disse uma das filhas, Melia Morao, de 40 anos. Para ela, o desabastecimento era uma realidade, mas um problema menor: "Quando Chávez chegou em 1999, não tínhamos luz, apenas velas. Não tinha médico. Não tinha naaada! Agora é diferente. Onde eu moro tem até uma ambulância com dois médicos, um cubano e um venezuelano". Para provar que a crise não ia abalar sua convicção política, disse: "Somos 100% chavistas, a família inteira. Eu devo tudo ao governo: a minha comida, meu trabalho, minha casa". Segundo a família acampada, a escassez crônica de medicamentos não é o resultado de má gestão do governo, mas de empresas farmacêuticas e farmácias cúmplices do mercado negro. "Se eu sou da oposição e tenho uma farmácia não vou vender remédio barato no balcão. Existem bachaqueros de medicamentos", explicou Melia. O grupo vinha de Barbacoa, vilarejo à meia hora de Cumaná, onde (veríamos depois) uma inscrição feita de pedras na entrada marca o território: "Somos Chávez".
A mesma opinião tinha Marisela Montaño, médica especializada em saúde pública, que deixava o hospital ao fim do seu turno. "É verdade que a situação é um desastre, com a queda do preço do petróleo e a falta de recursos. Mas tudo isso é agravado pela sabotagem. Os remédios do hospital desaparecem misteriosamente. Some tudo. Semana passada roubaram um computador que havia acabado de chegar. Além disso, as empresas farmacêuticas multinacionais estão limitando a oferta de medicamento. É uma cadeia de problemas. Mas é uma crise induzida", assegurou. Marisela também acha que o caos é relativo para os mais pobres: “A saúde pública melhorou. Já existem unidades médicas em cada bairro. Em Sucre, 80% da população eram pobres, pobres, pobres, e maior obra dos governos de Chávez tem sido social. Nunca fizeram nada parecido", disse ela.
Saindo do hospital, fomos conferir de perto o problema da venda de remédios. Segundo o farmacêutico Jesús Guerra, gerente da Farmácia Popular, no Centro, apenas um em cada dez clientes encontra o que precisa. "Antes todas essas prateleiras estavam cheias", disse, apontando para as estantes meio vazias. "Agora só tem poeira." Segundo Jesús, não há dinheiro comprar produtos importados e os preços regulados são baixos demais para incentivar a produção de remédio no país. De repente, na fila da padaria do outro lado da rua, começa uma confusão. Uma mulher negra corpulenta sai na porrada com uma menina franzina de seus 16 anos e começa a golpeá-la na cabeça. O farmacêutico fecha a porta correndo e a multidão exaltada começa a gritar e a tomar partido. Parece que a garota roubou o lugar da mulher na fila do pão e elas se estapeavam ali, caídas na calçada. A menina consegue se desvencilhar e sai com a testa sangrando. “Lutam por migalhas. É todo dia isso”, resumiu o farmacêutico.
Ao voltar para o hotel, passamos por vários carros de polícia e os restos do que havia sido um protesto com uma barricada com fogo. Difícil imaginar algo assim naquela cidade tão pacata. Já no hotel, graças à ajuda de um funcionário, fomos informados de que um hóspede queria comprar dólares. Era o empresário coreano, Chon. Quando ele soube que eu era brasileira, disse que estava buscando um fornecededor de frango no Brasil, porque queria importar contêineres de pés de galinha. “Tem muito colágeno”, disse. “É uma iguaria na Coreia.” Combinamos a troca do dinheiro para uma hora depois, no bar da piscina.
Com o tal empresário estavam mais três coreanos, que nos convidaram para tomar uma cerveja. Chon contou que estava fazendo muito dinheiro com transporte de comida congelada. Recentemente, havia sofrido uma tentativa de sequestro e agora só podia andar com guarda-costa. O dinheiro foi trazido até a mesa num pesado saco de lixo cinza. Tiramos um dos fardos na sorte para conferir e confiamos. Num excelente inglês, Chon antecipou a constrangedora cena que logo se passaria: “Meu amigo chegou da Coreia e teve um dia duro. Não está acostumado com a forma de trabalho dos venezuelanos. Então, eu contratei para ele uma massagista”, disse com um sorriso maroto. Passados dez minutos, trazidas pelo recepcionista do hotel, chegaram quatro garotas, bem jovens, muito maquiadas e com roupas decotadas. Desconcertado, Chon chamou o recepcionista, entregou um dinheiro para o táxi das garotas e despachou o grupo rudemente. Em seguida, pediu várias desculpas a nós. Foi tudo tão rápido que ficamos sem reação.
No hotel, ainda consegui dar um pulo na academia de ginástica, que não era exclusiva dos hóspedes - qualquer pessoa podia malhar ali mediante uma
mensalidade. A área de “aeróbica” ficava ao ar livre, de forma que, para suar não precisava qualquer esforço. Das cerca de 15 bicicletas jurássicas, com muita boa vontade salvavam-se uma ou duas. Segundo o professor, equipamentos de ginástica são importados e caríssimos e eles viram-se como podem. A sala de musculação era refrigerada e havia bastante gente malhando. Não fosse pelo reggaeton, poderia jurar que estava numa academia de ginástica carioca da década de 80.
Pela manhã, tomamos a estrada de volta para Barcelona. Fomos direto ao aeroporto e compramos a passagem para Ciudad Guayana, na tal zona petroleira, na Faixa do Orinoco. Como o voo seria no dia seguinte, nos hospedamos em outro hotel da rede Venetur, dessa vez na cidade de Lecheria, zona mais rica, cercada de marinas, com barcos luxuosos. Um dos funcionários do Venetur Maremares informou que o hotel estava sendo “reprivatizado”. Segundo ele, com a crise, o governo estava se desfazendo do empreendimento. No dia seguinte, demos um mergulho rápido na imensa e convidativa piscina com ondas, que simulava uma praia, e fomos para o aeroporto. Do avião observamos vários pontos de fogo no solo, que pareciam ser refinarias. Mais uma vez, escolhemos o hotel da cadeia Venetur, que dava vista para o grande Rio Caroni e uma bela cachoeira. Situada no estado de Bolívar, Ciudad Guayana é uma cidade nova, industrial e planejada, que também oferece opções turísticas. Além de um famoso parque natural, outra atração é o encontro das águas de dois rios, como em Manaus. Ali também, as águas azuis do Caroni e as marrons do Orinoco seguem quilômetros sem se mesclar.
Chegamos no fim da tarde e, com o taxista, conseguimos fazer contato com um dono de posto de gasolina que queria comprar dólares. Depois do jantar, ele apareceu no hotel com outra caixa de dinheiro. Contamos os fardos discretamente no próprio bar do hotel, enquanto tomávamos uma cerveja com ele. Joel, o jovem empresário, contou que era inviável ganhar a vida vendendo gasolina. Segundo ele, com o preço tabelado (em dólar o litro custa algo como US$ 0.02), não se tem lucro. Ele se sustentava apenas com o retorno da loja de conveniência no posto e disse que tinha muitos amigos que tinham deixado o país. Ele não queria ir, mas achava que não tinha outro remédio.
No dia seguinte, fomos planejar nosso roteiro para os próximos dias. A recomendação era ir à rodoviária da cidade. Enquanto esperávamos o táxi na recepção do hotel, vimos uma fila de velhinhos bem humildes, que se prolongava para o jardim. Em uma das salas do grande e luxuoso hotel, funcionava um escritório do governo para o pagamento de pensões. “O dinheiro não dá pra nada. As pessoas aqui estão passando fome”, contou uma senhora com um bebê no colo. Era meio dia e ela não tinha comido nada até aquela hora, porque estava sem um bolívar no bolso.
Na rodoviária, descobrimos que era muito complicado viajar até os campos de petróleo, como havíamos planejado. O deslocamento era difícil e demorado. A opção, então, era seguir por terra em direção ao Brasil, entrando por Roraima. Segundo o guia que havíamos comprado, o caminho prometia belas recompensas em termos de paisagem, e ainda passaríamos por reservas indígenas, outra pauta da viagem. A ideia era alugar um carro, o que logo se mostrou impossível – não há como deixar o carro na fronteira com o Brasil. A cidade venezuelana mais próxima da fronteira, Santa Elena de Uairén, não possui muita infraestrutura, tampouco a brasileira Paracaima. Os ônibus só fazem a viagem durante a noite – o que não nos interessava. A outra opção eram os táxis que fazem lotação. Você chega na própria rodoviária com as malas e espera até juntar um grupo. Decidimos ir de táxi e pagamos pelos quatro lugares para ter mais conforto e liberdade caso quiséssemos parar pelo caminho.
Na Venezuela, por onde se vá, há licoreiras. São mercados grandes, onde só se vende bebida alcóolica. Fazem muito sucesso e estão sempre movimentadas. Coca-Cola quase não se vê, tampouco sua marca. Pepsi é o mais normal. Já refrigerante light é raridade. Em geral, os mercados são negócios de chineses e coreanos. Por força das circunstâncias, os venezuelanos acabam levando uma vida bem mais sustentável que nós. Ao contrário do Brasil, onde em qualquer comprinha metem logo um saco plástico, na Venezuela isso é raridade – e como uma sacolinha faz falta na hora de arrumar a mala! Copos plásticos, papel toalha e papel higiênico também são itens escassos e contadinhos. Havia lugares que, em vez do rolo, havia uma pequena porção de pedacinhos de papel higiênico dobrados, tudo contadinho. A Venezuela também me pareceu um país conservador. Não vi casais gays andando de mãos dadas ou abraçados como é comum no Rio de Janeiro. Outra coisa que chama a atenção é que as cidades cheiram a fumaça de carro, talvez pela idade e estado dos automóveis que circulam pelo país.
Embora pouco conservada, a estrada para a fronteira estava em condições muito melhores do que havíamos imaginado. Atravessamos várias cidades pequenas sem qualquer expressividade ou atrativo. Passamos por um posto de pedágio cuja tarifa era de 100 bolívares (algo como R$ 0,10). Mais à frente, quando a estrada virou mão dupla, era comum ver motoristas transitando pelo sentido contrário da pista para fugir dos buracos. Vez por outra também víamos pessoas colocando fogo no piche para consertar buracos no asfalto. “Não são funcionários do governo. É gente daqui mesmo, que faz isso para tirar um trocado. Os motoristas param e dão uma gorjeta”, explicou o taxista. Por ser uma via de ligação com a fronteira, há muitos postos policiais. O taxista diminuía a velocidade, quase parando, e abria os vidros do carro. Nunca pediram nossos documentos. Junto aos postos, havia sempre pessoas no meio da pista vendendo café. Tudo numa convivência pacífica. A guarda bolivariana é tranquila e educada. E também condescendente com os carros velhos, sem farol ou espelho.
A viagem seguia calma e tranquila. É incrível nos darmos conta de que nas regiões que consideramos mais inóspitas e longínquas tem sempre uma vida acontecendo. Pensei que fosse encontrar uma zona pouco habitada, pouco movimentada, quase deserta. E, no entanto, naquela lonjura toda, quanta gente leva a vida, numa rotina absolutamente normal...
De repente, de uma paisagem bucólica e aborrecida, entramos subitamente num furdúncio: uma zona densamente povoada, cheia de tendas de compra e venda de ouro e diamante. O nome parece até uma pegadinha: Las Claritas. A estrada asfaltada virou uma rua de terra, esburacada, com um amontoado de lojas, biroscas, lixo, motocicletas, prostitutas, caminhonetes... Era como se de uma hora para outra entrássemos no inferno do que deve ter sido o lugarejo mais próximo de Serra Pelada. “É uma cidade mineradora”, explicou o taxista. “Há muito ouro e diamante por aqui”, afirmou. Passamos por um posto de gasolina com uma longa fila de carros e o motorista explicou que muita gente genha a vida ali revendendo gasolina nas minas. E do jeito que entramos em Las Claritas, saímos. Num susto.
Aliás, um dos segredos de quem viaja por essa estrada é saber onde abastecer o carro. Por conta da proximidade com a fronteira do Brasil, os postos de gasolina na região têm filas imensas. Não é para menos. Na Venezuela, é possível encher o tanque com apenas um real (os estrangeiros pagam mais caro). Mesmo com a experiência de nosso motorista, que faz essa longa viagem diariamente (são oito horas de estrada), pegamos uma fila. É que o próprio posto estava sendo abastecido. Tivemos que esperar cerca de uma hora. Menos mal, porque estávamos ao lado de uma linda cachoeira, onde, se não nos atrevemos a um mergulho, pelo menos nos refrescamos, molhando os pés numa água muito limpa, cor de ferrugem.
Era o começo da Grande Savana, lindo parque natural, no planalto das Guianas, onde fica o Monte Roraima. A região é de uma beleza impressionante, cercada de cachoeiras e paisagens espetaculares. Povoada por índios, não oferece boa estrutura turística, o que deve ajudar a preservar o local. Os hotéis são extremamente simplórios. Depois de presenteados com a vista do suntuoso Monte Roraima, chegamos a Santa Elena de Uairén, cidade pequena e tumultuada, com cara de subúrbio do Rio. Bem caótica e mal ajambrada, é o ponto de apoio para turistas do mundo todo que visitam o Monte Roraima e a Grande Savana. Passamos duas noites em Santa Elena, para poder ver com calma a região e conversar com os índios locais. A ideia era entender por que eles estão cruzando a fronteira do Brasil com destino a Manaus.
Há vários povoados indígenas na Grande Savana e tomamos um táxi para visitar um deles, San Francisco de Yuruaní, a uma hora de viagem. O táxi era dirigido por um rapaz, estudante universitário, muito simpático. Mais uma vez, o carro estava caindo aos pedaços. As janelas só subiam e baixavam com a ajuda da mão e a porta, já bem enferrujada, só abria por fora. A intragável fumaça que entrava no carro perfumou nossas mochilas com cheiro de cano de descarga por vários dias. Nas subidas, o jovem motorista fazia algum gatilho embaixo do volante, unindo fios. Mas chegamos.
Descobrimos que os índios que vivem na Grande Savana vão muito bem, obrigado. Satisfeitos com suas vidas e suas terras protegidas num lindo parque estadual, repleto de ouro e diamante, não são eles que estão cruzando a fronteira. Um pai de família nos contou que os que deixam a Venezuela são da etnia Guarao, procedentes do delta do Rio Orinoco. “De vez em quando, vemos um grupo passar por aqui. Vêm muita gente. Mas aqui eles não param”, disse o índio da etnia Pemón. No local, demos ainda uma escapada para conhecer uma bela cachoeira, de água limpíssima. Na volta, pegamos a estrada com o dia escurecendo. Fiquei imaginando o estado dos pneus, dos faróis e da suspensão, mas achei melhor pensar em outra coisa. Ainda sobre os índios que vão para o Brasil, em Santa Elena de Uairén, conversamos com outra indígena que vendia um molho picante feito de bachaco (a tal formiga, que eles comem). Ela espetou: “Os Guarao não gostam de trabalhar, de roçar a terra, querem viver com as esmolas do governo. Como o dinheiro acabou, agora eles estão indo embora”.
Quem diria! Pela região soubemos que há um périplo de brasileiros que cruzam a fronteira para cuidar da saúde no país de Maduro. Alguns vão em busca de um médico venezuelano que trata de hérnia de disco com aplicação de ozônio, em Santa Elena de Uiairén. Dizem que ele consegue resultados milagrosos. Outros vão fazer cirurgia plástica na Venezuela, pois os médicos são bons e, os procedimentos, muito baratos. Há excursões que saem de diversos estados do Brasil incluindo pacotes de hotel e transporte até Ciudad Guayana.
De Santa Elena, tomamos um táxi para Paracaima, do lado brasileiro, a vinte minutos de distância. Atravessamos com tranquilidade a fronteira, que fica já na cidade brasileira, um povoado bastante simples. Ali, ao lado da rodoviária, encontramos um grupo de índios Guarao acampados em condições bem precárias, como mendigos. Fomos conversar com eles. Marcelino, com seus trinta anos, contou seu drama. “Vivíamos bem até 2013. Pescávamos, cultivávamos morocoto (uma espécie de tubérculo), andávamos de barco pelo delta para comprar ferramentas, machados, facões, motosseras para cortar madeira”, explicou. “Mas agora estamos passando fome. O CLAP vem com dois quilos de arroz e dois pacotes de macarrão. Não é suficiente”. O problema é que “o governador do nosso estado e os prefeitos de nossos municípios não nos ajudam em nada”, disse. Descobriríamos depois que os tais políticos mencionados por Marcelino estão envolvidos em corrupção. Marcelino contou também que a ideia é voltar: “Vamos passar um tempo em Manaus até as coisas melhorarem”. E para dar um nó ainda maior na nossa cabeça, assegurou: “Nós somos 100% chavistas, somos revolucionários”.
Mas não é apenas cruzando a fronteira que se deixa o país. Em Boa Vista, encontramos vários venezuelanos: um ganhava a vida lavando carros em uma oficina, outros limpavam vidros no sinal de trânsito, mãe e filhas pediam comida na frente de um mercado e outras ganhavam a vida como prostitutas. Só em Manaus, após passar por outro grupo Guarao, acampado embaixo de um viaduto, é que deixamos realmente a Venezuela.
Formos à Venezuela com a missão de tentar entender o país. Mas a verdade é que talvez tenhamos saído mais confusos do que entramos. Entretanto, uma coisa é possível afirmar: não é honesto falar de Venezuela sem levar em conta de que se trata de um país profundamente divivido, cindido em dois polos opostos. É natural explicar o mundo segundo nossas próprias convicções. É muito fácil encontrarmos as evidências necessárias para corroborar uma ou outra ideologia política. Ainda mais em circunstâncias tão extremas. Os exemplos são inúmeros e contundentes de ambos os lados, seja para a direita ou para a esquerda. Se Maduro vai cair, se o país soferá um golpe, se acontecerão as eleições presidenciai, não tenho ideia. Mas, seja quem for o próximo presidente da Venezuela terá pela frente o desafio de construir uma ponte sobre uma falha abissal ou será impossível governar.
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - INÍCIO
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 1
Três semanas na Venezuela: Diário de uma carioca na República Bolivariana - Parte 2

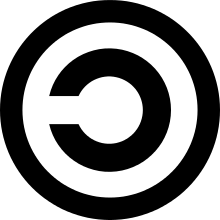 Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.
Copyleft. É livre a reprodução para fins não comerciais, desde que autor e a fonte sejam citadas e esta nota seja incluída.